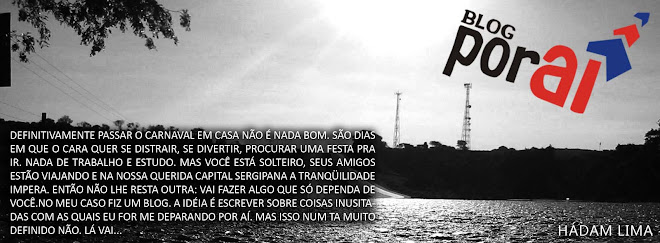Não precisa conhecer muito de futebol para saber que o Campeonato Carioca é dividido em dois turnos – ou taças Guanabara e Rio. Para ser campeão, é preciso vencer um dos turnos, mais o confronto direto com o primeiro colocado do outro turno. A outra opção é menos comum: acontece quando o mesmo clube vence os dois turnos.
Não precisa conhecer muito de futebol para saber que o Campeonato Carioca é dividido em dois turnos – ou taças Guanabara e Rio. Para ser campeão, é preciso vencer um dos turnos, mais o confronto direto com o primeiro colocado do outro turno. A outra opção é menos comum: acontece quando o mesmo clube vence os dois turnos.Tão incomum que não acontecia desde 1998, com o Vasco – há quem diga que a explicação está na renda vinda dos jogos extras entre os vencedores dos turnos. Mas este ano voltou a ocorrer. Após três vices (em títulos do Flamengo), eis que o Botafogo é o campeão.
Mas o campeonato carioca tem uma particularidade que muitas vezes transcende a disputa pelo título. Mais que o caneco, prevalece o receio de não ser o vice. Já diz aquela máxima: ‘o segundo lugar é o primeiro dos últimos’. Seja lá quem a criou, se não for carioca, na certa passou pelo Rio.
Desde que acompanho toda essa ladainha de vice, bi-vice, tri-vice etc, lá pelo finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, lembro bem que o Vasco era o alvo das gozações (tri-vice: 99,00,01). De uns anos para cá, o Botafogo herdou o posto. Já o Fluminense sempre foi cauteloso. Antes de arriscar o vice apertava o freio. Resultado: já foi terceiro ou quarto colocado 35 vezes.
A favor dos anti-flamengo está a história. Embora muitos não lembrem, o time mais popular do país já foi vice-campeão carioca 29 vezes – mais que Vasco (23), Botafogo (17) ou Fluminense (20). “Ah, mas e este ano?”
É aí que está. Como perderam a final do segundo turno, os flamenguistas têm sido alvo da fuleragem. O que ninguém fala é que o Botafogo levou as duas taças. Campeão direto. Se o Flamengo perdeu o segundo, o Vasco foi à final e perdeu o primeiro.
Para acalmar os ânimos, proponho a solução: como o vice-campeão é justamente o time derrotado no confronto direto entre os campeões dos turnos, declaremos o Glorioso campeão e vice do Cariocão 2010. Salve o Botafogo, levou tudo!