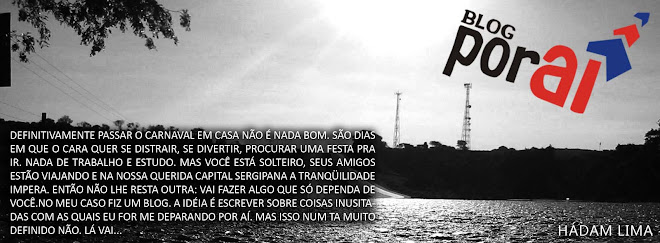Numa sexta-feira dessas, com um sol daqueles. Lá estávamos eu e o fotógrafo Silvio Rocha, de cara com a residência do figura. A porta está aberta. “Podem entrar, já estávamos esperando”, diz sua neta. “Mas onde ele está?”, pergunto antes de vê-lo aproximar-se, sem camisa, com a calça pelo avesso. “Mas meu filho, vai ajeitar essa roupa”, reclama a neta. “Deixa assim mesmo que eu tô bonito”, contesta o velhinho, sem dentes, mas sorridente, antes de vestir uma blusa e calçar o chinelo. “Agora bora conversar”.
Numa sexta-feira dessas, com um sol daqueles. Lá estávamos eu e o fotógrafo Silvio Rocha, de cara com a residência do figura. A porta está aberta. “Podem entrar, já estávamos esperando”, diz sua neta. “Mas onde ele está?”, pergunto antes de vê-lo aproximar-se, sem camisa, com a calça pelo avesso. “Mas meu filho, vai ajeitar essa roupa”, reclama a neta. “Deixa assim mesmo que eu tô bonito”, contesta o velhinho, sem dentes, mas sorridente, antes de vestir uma blusa e calçar o chinelo. “Agora bora conversar”.Na rua Ceroa da Mota, nº 76, bairro 18 do Forte, reside um dos ex-servidores mais ilustres da Prefeitura de Aracaju. Seu nome é Rosalvo Teles de Reis. "Eu sou Rosalvo!", fala sempre, quando menos se espera. Aposentado desde 1976, o senhor de 81 anos de idade não fica uma semana sequer sem ir ao Centro Administrativo. "O pessoal todo gosta de mim. Sou o dono do patrimônio", afirma o aposentado. Mas o que é o patrimônio? "É o prédio: eu sou o dono", brinca.
Nascido no município de Paripiranga, no interior da Bahia, em 1928, seu Rosalvo chegou à capital sergipana com a mãe, ainda pequeno. "Baiano burro nasceu morto", assegura. Em Aracaju, cresceu e construiu uma vida repleta de reviravoltas. Embora não lembre muita coisa, o que lembra conta com convicção. "O estudo é bom, mas o que vale é o conhecimento", é uma de suas frases favoritas.
Antes de ingressar na Prefeitura, Rosalvo já fez de tudo um pouco: foi bombeiro, militar, jogador de futebol e por aí vai. "Sabe quantas partes tem o fuzil? Eu sei!". E ai de quem duvidar. Depois que ingressou no quadro de funcionários do município, em 16 de junho de 1951, fez ainda mais um pouco: entregou correspondência, apreendeu animais, serviu café e até trabalhou como coveiro no cemitério São João Batista. "Comecei na Administração, lá na rua Itaporanga", destaca.
Do período em que foi jogador, o ex-servidor garante carregar na canela a marca de uma dividida de bola com Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores da história do Vasco da Gama. "Foi lá na Fonte Nova, eu jogava pelo Sport de Recife", lembra Rosalvo, que à época de servidor era o titular absoluto do time da prefeitura. "Vou abaixar, viu?!", diz antes de agachar-se e simular a posição de um goleiro ao segurar a bola, fazendo questão de mostrar que ainda tem muita disposição e preparo físico.
Apesar de aposentado, o jeitão inquieto de seu Rosalvo e seu apego pela prefeitura não lhe deixam ficar mais em casa do que na rua, como se espera de alguém com sua idade. Pelo contrário, é fácil encontrá-lo visitando secretarias, cumprimentando ex-colegas de trabalho e contando suas histórias à nova geração de servidores. "Se deixar vou todo dia!", ressalta.
E só não vai todo dia porque sua neta não deixa. “Ele não fica quieto. Quer andar pra tudo quanto é canto, sem saber pra onde ir”, revela a moça, preocupada com a saúde do avô, que há alguns anos descobriu sofrer de sérias complicações nos rins. Mas não tem jeito, o velho Rosalvo gosta mesmo é de andar e ver gente. Conversadorzinho que só ele, percorre toda a cidade, seja a pé ou de ônibus. Assim espera chegar aos 100 anos. “Eu tô é novo!”
Foto: Silvio Rocha